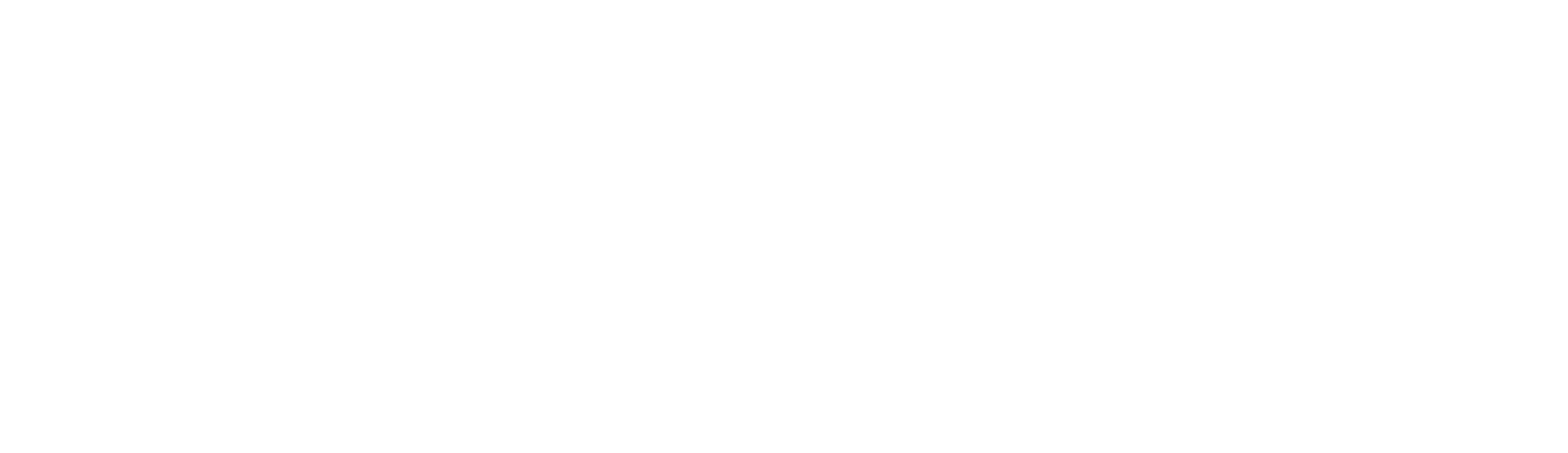“Faz-se necessário uma nova Declaração dos Direitos Humanos”.
Foi assim que começou a palestra do professor, intelectual e ativista português Boaventura de Sousa Santos aqui em São Luís, no dia 28 de novembro, na 15ª edição do Diálogos Insurgentes, promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos (logo depois do professor dedicar sua fala ao líder indígena Paulo Paulino Guajajara, morto em uma emboscada de madeireiros no começo de novembro deste ano).
A palestra teve como título O futuro dos Direitos Humanos: repensando a universalidade dos direitos e colocou-se na tarefa de abrir três frentes de discussões: analisar a situação em que se encontram os Direitos Humanos, como sua Declaração surgiu (a qual, por sinal, acabou de completar 71 anos de idade no último dia 10 de dezembro) e “o que teríamos que fazer para realmente pensar uma outra Declaração para os próximos 30 anos, digamos assim”, como o próprio professor dissera.

A fala estendeu-se por pouco mais de 1 hora e 20 minutos, mas mereceria ser um minicurso, em razão da força e da abrangência de suas três propostas de debate – e, especialmente, da complexidade da última, que pede novas perspectivas epistemológicas; perspectivas que estão no centro da obra de Boaventura, sociólogo de renome mundial em assuntos como democracia, globalização, epistemologia, sociologia do direito e, claro, direitos humanos.
O professor debruçou-se mais demoradamente sobre as duas primeiras, necessárias para contextualizar os ouvintes não tão iniciados no assunto, e, por que não?, para expor aos ainda incautos (ou, pior, aos que vivem numa bolha) o quanto o mundo consegue ser uma “bola de confusão” – como diria aquela música dos Temptations, grupo vocal americano dos anos 1960 e 1970. A seguir, um passeio relativamente breve ao longo de sua palestra, a qual foi enxugada o máximo possível para fins de síntese.
“Em primeiro lugar, a gente sabe que a universalidade dos Direitos Humanos é um projeto, não é uma realidade”, Boaventura disparou.
“Fora que a esmagadora maioria da população mundial não é sujeito dos Direitos Humanos. É objeto do discurso destes Direitos. Ela não os tem. Não os goza. A universalidade é um projeto fundamentalmente porque quando ela foi inaugurada, ela foi inaugurada por um grupo muito restrito de pessoas. Foi um mundo eurocêntrico, por assim dizer, que participou da inauguração deste projeto. Um projeto que foi se legitimando aos poucos, mas é evidente que de universal não tem muito”, continuou o professor.
Boaventura fez, assim, um resgate do contexto da criação da Declaração dos Direitos Humanos: o final da Segunda Guerra Mundial e o trauma indelével ocasionado por ela. Na época, estava claro para todos que aquilo não poderia se repetir. “Para isso (…), ”, explicou o professor, “(…) era necessária uma declaração que mostrasse a dignidade de todos os seres humanos enquanto seres humanos. É essa a ideia que subjaz a pretensão de universalidade dos Direitos Humanos. Obviamente, ela não sendo universal em sua constituição, deixou de fora muitas questões que, tempos depois, iriam ‘explodir’. Por exemplo: a questão colonial, o direito à libertação dos povos do julgo colonial. Uma boa parte do mundo a essa altura era ainda colonial e, portanto, era importante que esta questão tivesse sido discutida”.
A Declaração surge, portanto, no contexto da Guerra Fria. Uma guerra que fez surgir dois mundos: o mundo capitalista-ocidental e o mundo socialista-soviético. Dois mundos rivais, opostos (estudantes do ENEM do ano que vem, atenção). E os Direitos Humanos e a Declaração visaram, de alguma maneira, ilustrar a superioridade do mundo ocidental capitalista, como nos explicou o professor Boaventura:
“Há a ideia de que só nas sociedades ocidentais é que nós vamos encontrar a plenitude dos Direitos Humanos. No mundo soviético não tínhamos a liberdade – portanto, isso leva ao autoritarismo, o que deixaria claro a superioridade do mundo ocidental. A aplicabilidade do Direitos Humanos vai seguir esta ideia, de que a violação de tais direitos ocorre fundamentalmente no mundo soviético. O mundo ocidental tem problemas, são países que podem também violar os Direitos Humanos, mas não tem a mesma sistemática violação que o mundo soviético tinha”.

Os Direitos Humanos passam a ser, assim, uma alternativa em relação à narrativa socialista do mundo soviético. E eis que chega 1989 e o Muro de Berlim cai – tanto materialmente quanto simbolicamente. O que significa, assim, que o lado soviético desaparece. Um triunfo dos Direitos Humanos no mundo, correto?
“Na verdade, não. A partir deste momento – que muita gente pensou que era um triunfo da liberdade, do capitalismo como única solução – começamos a ver ataques sistemáticos aos próprios Direitos Humanos”, analisa Boaventura.
Será necessário, aqui, uma leve digressão. Dessa forma, o professor direciona o rumo de sua prosa para uma coisa que chegou até a ser introduzido nas teorias jurídicas, mas que não corresponde necessariamente à nossa realidade, tal como ele nos explica.
Leia também | Malucagens e molequices: uma Entreveta Zurista com Zeca Baleiro
É a questão das gerações dos Direitos Humanos. Teríamos uma primeira geração, os Direitos Civis e Políticos. Depois os Direitos Sociais e Econômicos. E, finalmente, os Direitos Culturais. “Foi essa a trajetória nos países mais desenvolvidos e democráticos (Inglaterra, EUA…), mas em muitos outros países não houve esse triunfo de várias gerações simultâneas e/ou bem separadas e distintas”, como nos explica Boaventura. Mas o gancho aqui será outro. Como o próprio professor nos coloca:
“Havia uma tensão na cultura dos Direitos Humanos entre uma corrente mais liberal e uma corrente mais socialista. Esta primeira era aquela que privilegiava os direitos civis e políticos. A outra dizia: ‘não, os mais importantes são os direitos sociais e econômicos, porque estes é que dão as condições para os direitos civis e políticos. Como ter liberdade de imprensa se não tenho dinheiro pra comprar jornal?’”.

Segundo Boaventura, isso originou uma discussão de tremenda importância que, a partir de 1989, por meio de um modelo de capitalismo global conhecido como neoliberalismo, dará voz à insistência de que os direitos sociais e econômicos (o direito à saúde, à educação, ao sistema público de pensões, etc.) eram demasiado caros e que deveriam ser privatizados.
“Este debate existiu em muitos países. Na Europa, inclusive, onde os países tinham alcançado mais os direitos sociais e econômicos. Isso vai se refletir numa crise daquilo que nós chamamos de socialdemocracia. Esses direitos sociais começam a ser, assim, criticados. O neoliberalismo começa exatamente a fazer aquele discurso de que a democracia está sobrecarregada com demasiados direitos e que é preciso diminuí-los. Isto é: há uma ideia de que a democracia só é funcional, só pode existir, na medida em que não atrapalhe o capitalismo. A única liberdade, portanto, é a liberdade econômica. E essa é a crise da democracia em que a gente se encontra. Está a acontecer (inclusive na Europa com a emergência da extrema direita) um enfoque que põe acima de tudo a questão da liberdade econômica do capitalismo; está a acontecer na América Latina (como no caso do Brasil), na Índia, etc. E é esta a ideia: enquanto até 1989 parecia-se que a democracia que controlava o capitalismo, agora é o capitalismo que regula a democracia”.
“E de onde é que vem isso?”, o professor nos desafia. “Se estudarmos os teóricos dos Direitos Humanos no séc. XVII, o que é que vemos? John Locke: ‘qual é o direito fundamental a partir do qual todos os outros direitos se derivam? O direito à propriedade individual’. Francisco de Vitória, um tempo antes, grande teólogo, talvez o fundador do Direito Internacional, vai dizer: ‘o direito humano fundamental é o direito ao livre comércio’”.
Leia também | Jornadas 2.5: momentos sobre empreendedorismo de impacto social
“Então… Qualquer povo indígena que fizesse resistência aos europeus estavam a violar os direitos humanos dos europeus ao livre comércio! Eram obstáculos ao desenvolvimento e, portanto, quem é o violador dos direitos humanos dos europeus deve ser tratado como inimigo! O inimigo que viola os direitos humanos não tem direitos humanos. É assim que se deu o extermínio dos povos indígenas!”, pontuou o ativista.
Conclui-se: a universalidade no mundo ocidental moderno sempre se baseou numa ideia de que há um direito acima de todos – e quem nomeia esse direito é quem tem poder para fazê-lo. “É por isso que se viola os Direitos Humanos… Para proteger os Direitos Humanos. Quer dizer, faz isso como se faz com a democracia. Não é em nome da democracia que se destrói o Iraque? É em nome dos Direitos Humanos que se destrói o Iraque, a Líbia, a Síria! E foi assim com o colonialismo”.
“Contudo, os Direitos Humanos também tiveram leituras contra-hegemônicas!”, como nos afirma Boaventura. “Vários povos também foram dizendo: ‘mas afinal, nós também somos humanos! Então por que que não lutamos por nossos direitos humanos?’ Tem-se, assim, uma leitura diferente sobre os Direitos Humanos, dos oprimidos que resistem, diferente daquela cuja finalidade é manter a dominação do mundo”.
Leia também | #15M Por que lutar por educação é tão importante para um país?
“Quem trabalha, como eu, com o movimento indígena, sabe que nem sequer há a expressão ‘direitos humanos’ nas línguas indígenas. Mas os povos indígenas, os povos quilombolas, usam esta expressão como única forma de se entenderem conosco. Pois é uma expressão que nos permite entender que eles estão a lutar por sua dignidade e aceitação”.
“Este respeito por quem luta pelos Direitos Humanos é que me moveu a dar outra leitura a estes direitos, a dar um pouco mais de complexidade, e tentar ver como é que nós podíamos usá-los como uma arma”, no melhor sentido possível do termo, é claro. “A gente não escolhe as armas para imaginar uma situação melhor. Por exemplo, já houve um tempo em que praticamente todo mundo tinha a palavra ‘socialismo’ ou ‘comunismo’ para imaginar uma conjuntura melhor. Isso hoje está muito gasto! Ficou, assim, a luta pela democracia e pelos Direitos Humanos. Lutamos com as armas que temos para tentar melhorá-las”.
O que nos leva, assim, ao mote daquela terceira proposta de debate da palestra – aquela mais complexa, como pontuei lá em cima, concernente à necessidade de uma nova Declaração dos Direitos Humanos.
Leia também | O Mundo que o YouTube criou: o conteúdo, o ódio e o respiro
A mais complexa – pois aborda a questão da interculturalidade, do diálogo intercultural, como um dos requisitos para uma declaração com pretensões universais – mas que, compreensivelmente, foi apenas pincelada, pois sozinha preencheria outra palestra inteira (outros requisitos para uma nova declaração, segundo Boaventura, como a questão dos direitos da natureza e uma proposta de Deveres Humanos, não puderam deixar de ser comentados também).
Ao final da palestra, me esforcei para levar uma interpelação ao professor...
No livro A Gramática do Tempo, Boaventura afirma que o diálogo intercultural não deve ser encarado apenas do ponto de vista do exercício intelectual, mas também da entrega moral, afetiva e emocional entre as partes envolvidas – o que nos faz pressupor que não existe educação sem cooperação mútua.

E a tolerância (ou a falta dela) permanece um problema de educação permanente dos adultos, já que na vida estamos sempre expostos ao trauma da diferença.
No livro Cinco Escritos Morais, Umberto Eco afirma: “educar para a tolerância adultos que atiram uns nos outros por motivos étnicos e religiosos é tempo perdido. Tarde demais. A intolerância selvagem deve ser, portanto, combatida em suas raízes, através de uma educação constante que tenha início na mais tenra infância, antes que possa ser escrita em um livro [antes que vire intolerância doutrinária], e antes que se torne uma casca comportamental espessa e dura demais”.
Adoraria saber a opinião do professor a respeito desta passagem de Eco, mas não consegui fazer com que minha interpelação chegasse a ele. Fica para uma próxima – de preferência, para um minicurso, claro.