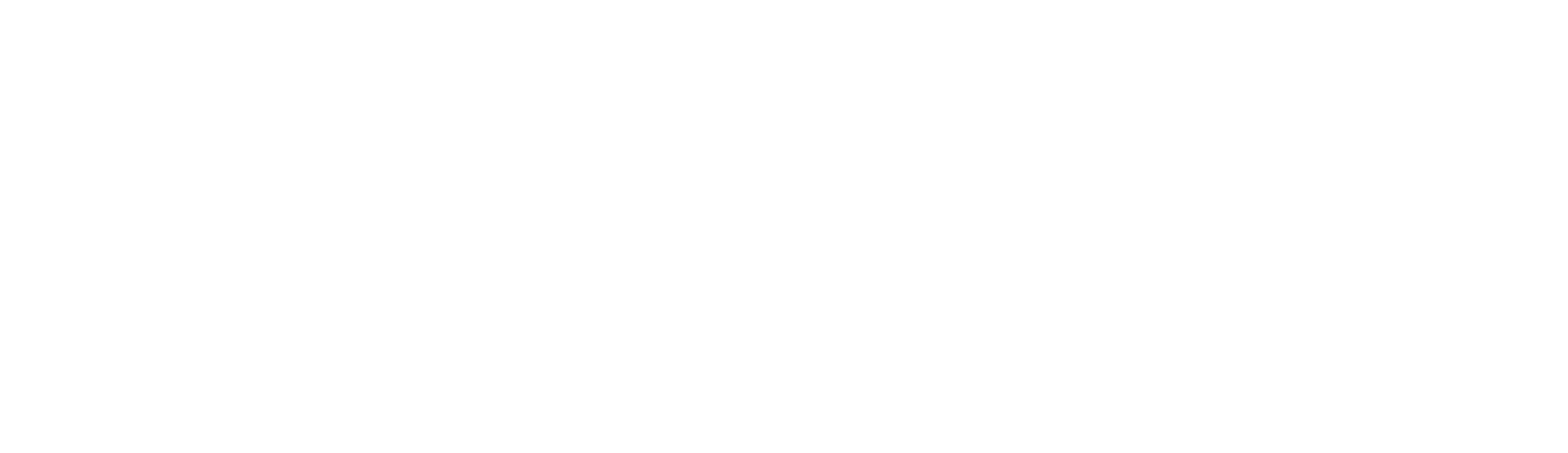Certo dia na redação do jornal, chegou uma foto de uma senhora negra chorando e olhando seu filho, também negro, com o corpo esquartejado em um carrinho de mão, na porta da casa da família, que fica em um bairro na periferia de São Luís. Aquela cena ficou na minha mente e eu não parava de pensar na brutalidade de quem fez aquilo e no desencadeamento de sentimentos que transbordavam das pessoas que estavam envolvidas, direta ou indiretamente, com aquele fato. Ódio, dor, vingança, medo, desespero… De alguma forma, também me senti parte daquilo.

São pais, mães, parentes, amigos. Não dá para mensurar quantas vidas são destroçadas em um único linchamento. É brutal. Depois que um homem negro foi amarrado a um poste e espancado até a morte em uma grande avenida da capital maranhense, se levantou um debate intenso no país inteiro sobre se fazer justiça com as próprias mãos, mas, como quase sempre, não evoluímos no cerne da questão e estas cenas de barbárie seguem acontecendo de forma corriqueira. Vivemos tempos caóticos. Tempos estes nos quais as delegacias de homicídios têm mais ocorrências do que as delegacias de crimes contra o patrimônio, ou seja, a vida vale menos do que o bem material.
“Quanto vale a vida de qualquer um de nós?
Quanto vale a vida em qualquer situação?
Quanto vale a vida perdida sem razão?
Num beco sem saída, quando vale a vida?
São segredos que a gente não conta
São contas que a gente não faz”
Nessa música, composta nos anos 1990, os Engenheiros do Hawaii já faziam a pergunta que eu te faço hoje: quanto vale a vida? Precisamos falar sobre isso. E precisamos também de mais amor, por favor!
Viver na cidade violenta é um exercício mental cruel. Para alguns, é desesperador. Você fica triste, revoltado, às vezes sem esperança na humanidade. Temos sequelas de uma guerra. E uma guerra que nunca terá vencedores, somos todos perdedores. Não basta vivermos esse caos diário, ainda temos que aturar despautérios do tipo: “bandido bom é bandido morto”. Essa expressão execrável revela bem o estado do transe psicossocial no qual estamos mergulhados.
Diante de todo esse cenário lúgubre, tive recentemente a felicidade de poder ver uma reflexão extremamente criativa e sensível sobre o tema. Trata-se da peça teatral “Atenas: mutucas, boi e body”, realização dos grupos maranhenses Petite Mort Teatro e Santa Ignorância Cia. de Artes. Com texto de Lauande Aires e Igor Nascimento, o espetáculo é certeiro e nos transporta, de maneira lúdica, através de um viés cénico-musical, para as entranhas dos locais onde nascem os pobres que estão pagando com suas vísceras por uma bolsa furtada ou um celular roubado. Os autores utilizam também em seus argumentos as avassaladoras especulações imobiliárias – que passam literalmente como um trator por cima dos menos favorecidos –, e a cultura mítica do bumba-meu-boi.

Em um cenário que representa uma das várias palafitas que temos em nossa abandonada cidade, os atores Dênia Correia, Lauande Aires e Nuno Lilah Lisboa nos apresentam a tragédia. O eixo central da narrativa é a bordadeira Rosário, que, enquanto borda indumentárias para o próximo festejo do boi da Vila de Atenas, convive com a possibilidade de um despejo de toda a comunidade por causa da construção de um condomínio de luxo, além de sofrer constantemente represálias de amigos e vizinhos por causa da delinquência de um filho.
Com um embolado na tríade do cívico-mítico-religioso, essa mulher se deixa levar pelo discurso do capital, sofre pressão por uma suposta traição ao seu povo e cultura e no fim recebe o corpo do seu filho, esquartejado pela multidão, após o jovem ter sido acusado de um roubo no barracão do boi. Na mesma hora desta cena eu lembrei da foto da senhora que chorava sobre o corpo do seu filho esquartejado. O sofrimento de Rosário me deixou com o mesmo nó na garganta daquele dia.
A apresentação da peça – que aconteceu na sede da Pequena Companhia de Teatro, que fica no Centro de São Luís, uma das cidades do país onde mais acontecem cenas reais de rituais de justiçamento no país – acabou e eu continuava atônito, com um misto de esperança e tristeza. Esperança por ver que a arte ainda existe e se faz presente, apesar do pouco interesse de quem nos governa, e tristeza por lembrar que aquilo era apenas um pequeno recorte da máquina de moer pobre que se tornou o nosso sistema de repressão, ferramenta utilizada para a manutenção do poder de poucos.
Minha esperança é que chegue o dia em que, ao presenciar um linchamento, você se lembre de que aquela pessoa que está açoitada no chão já foi um bebê, como eu e como você, e que todas as pancadas que ela está recebendo, de forma covarde, vão se transformar em lágrimas de quem viu essa criança nascer e crescer. Quantas Rosários não estão aos prantos enquanto você lê este texto? Pare de fazer de conta que não quer nem saber.
Menos ódio e #maisamorporfavor.
Quanto Vale a Vida?